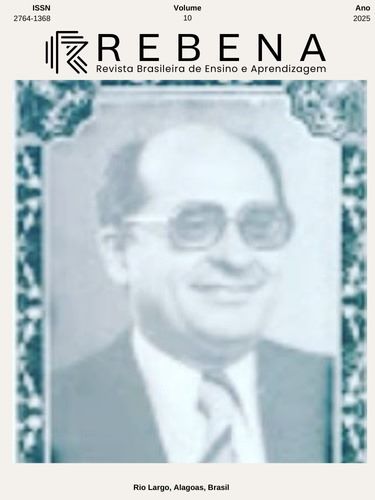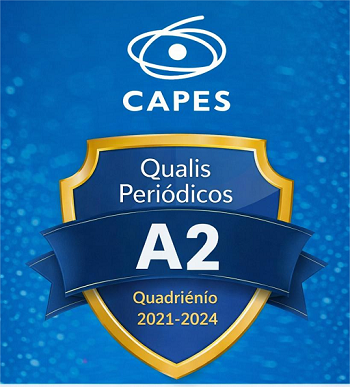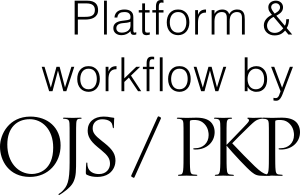A Qualidade da Escola Pública: A Opinião e os Desafios dos Jovens do Ensino Médio em Presidente Sarney Maranhão – Brasil. Dissertação (Mestrado)
Palavras-chave:
Educação, Ensino Médio, Percepções Estudantis, Desafios Educacionais, Melhoria EscolarResumo
Este estudo investigou as percepções e expectativas de estudantes do Ensino Médio em Presidente Sarney, Maranhão, sobre a qualidade da educação em escolas públicas, visando identificar desafios e sugestões de melhoria. A pesquisa adotou uma abordagem qualitativa, envolvendo alunos de duas escolas urbanas e rurais, por meio de entrevistas semiestruturadas e questionários. Os resultados revelaram avaliações mistas da qualidade da educação, destacando a dedicação dos professores e a infraestrutura razoável, mas ressaltando desafios como a falta de responsabilidade dos alunos e recursos inadequados. As expectativas dos estudantes em relação à infraestrutura evidenciaram a necessidade de melhorias, e a falta de recursos foi identificada como um obstáculo ao desempenho acadêmico. A percepção do corpo docente enfatizou a importância da qualificação dos professores e a preferência por métodos de ensino dinâmicos. Os alunos indicaram lacunas na utilização de recursos didáticos, destacando a necessidade de maior integração de tecnologias nas práticas pedagógicas. Ao analisar as atividades extracurriculares, os estudantes reconheceram sua importância para o desenvolvimento pessoal e acadêmico, apontando benefícios como o estímulo à busca por conhecimento e habilidades. As sugestões de melhoria incluíram investimentos em recursos didáticos, climatização e formação docente, destacando a importância de uma abordagem integrada para superar desafios educacionais. As respostas dos alunos também enfatizaram a necessidade de maior ênfase nas habilidades socioemocionais e a importância do envolvimento da comunidade escolar na busca por soluções. Em síntese, este estudo proporciona uma compreensão aprofundada das percepções dos estudantes em Presidente Sarney e destaca a complexidade dos desafios educacionais na região, fornecendo informações para a implementação de melhorias eficazes.
Palavras-Chave: , , , , .
Referências
Albuquerque, T. L. S., & Ramos, A. L. R. (2020). Estudantes e professores: diálogos acerca da qualidade da educação básica. Revista Ensino & Pesquisa, 18(3), 529-550.
Almeida, M. E. B. (2012). Tecnologias na Educação: Mídias Móveis. São Paulo: Editora Saraiva.
Alves, R. (2007). Por uma Educação Romântica. Papirus Editora.
Andrade, A. F., & Silva, L. A. (2019). As condições das escolas públicas do estado do Maranhão. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 4(2), 93-109.
Antunes, C. (2011). Didática. Vozes.
Apple, M. W. (2004). Ideology and Curriculum. New York: Routledge.
Apple, M. W. (2004). Ideology and Curriculum. Nova York: Routledge.
Assunção, A. R., Filho, J. L., & Marques, L. R. (2018). Participação em atividades extracurriculares e desempenho escolar dos estudantes brasileiros: uma abordagem utilizando propensão por escore de regressão. Revista de Economia Contemporânea, 22(1), e181405.
Barreto, R. V. et al. (2020). Avaliação da qualidade do ensino superior sob a perspectiva do estudante. Revista Eletrônica de Administração e Turismo, 12(4), 982-1001.
Barros, R. P. (2010). A importância da educação na redução da desigualdade no Brasil.
Bates, A. W. (2015). Teaching in a Digital Age. Tony Bates Associates Ltd.
Brackett, M. A., & Katulak, N. A. (2007). Emotional intelligence in the classroom: Skill-based training for teachers and students. In Annual Meeting of the American Educational Research Association, Chicago, IL.
Branca, M., Hargreaves, A., Evans, L., & Wiggins, S. (2020). School Leadership, Climate, and Student Outcomes: Identifying What Works and Why. School Leadership & Management, 40(1), 3-24. doi:10.1080/13632434.2019.1645311
Brasil. Ministério da Educação. (2006). Programa Mais Educação. Brasília, DF: MEC.
Bruner, J. (1996). The Culture of Education. Cambridge: Harvard University Press.
Carpenter, S., Schindel, J., Stewart, M., & Russo, R. (2017). The Impact of Classroom Environment on Student Learning. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 29(1), 63-73.
Castro, C. D., Paula, C. A. P., & Pimenta, R. R. (2018). Uso das tecnologias digitais na Educação Básica: desafios e possibilidades. In Anais do Simpósio Nacional de Tecnologias Digitais na Educação (pp. 53-62).
Castro, M. H. G. (2005). Desafios da escola pública: Qualidade e equidade.
Castro, M. H. G. (2007). A Qualidade da Educação Escolar Brasileira. Editora Unesp.
Castro, M. H. G. (2014). Gestão escolar: desafios e tendências. São Paulo: Editora Atlas.
Chen, N. S., & Huang, S. Y. (2020). The integration of mobile technology in education: A meta-analysis and systematic review. Computers & Education, 151, 103856. doi: 10.1016/j.compedu.2020.103856
Conselho Nacional de Educação. (2013). Parecer CNE/CEB nº 9/2013. Brasília, DF: CNE.
Costa, I. S., et al. (2020). A falta de recursos educacionais nas escolas públicas do Maranhão: um estudo de caso. Revista Multidisciplinar da Faculdade de Educação de Bacabal, 4(1), 109-124.
Costa, M. F. (2017). Formação inicial e continuada de professores: um desafio para a educação básica do Maranhão. Revista Electrónica de Investigación Educativa, 19(3), 72-81.
Darling-Hammond, L. (2017). Teacher education around the world: What can we learn from international practice? European Journal of Teacher Education, 40(3), 291-309.
Dayrell, J. (2017). A Escola "Faz" as Juventudes?: Os Sentidos da Escola para Jovens de Camadas Populares. Editora UFMG.
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior. Springer.
Demo, P. (1995). Pesquisa e Construção de Conhecimento: Metodologia Científica no Caminho de Habermas. Atlas.
Dewey, J. (1938). Experience and Education. New York: Kappa Delta Pi.
Eccles, J. S., & Gootman, J. A. (2002). Community programs to promote youth development. National Academies Press.
Eccles, J. S., Barber, B. L., Stone, M., & Hunt, J. (2003). Extracurricular activities and adolescent development. Journal of Social Issues, 59(4), 865-889.
Eisner, E. W. (2002). The Arts and the Creation of Mind. New Haven: Yale University Press.
Elias, M. J., & Arnold, H. (2006). The Educators Guide to Emotional Intelligence and Academic Achievement: Social-Emotional Learning in the Classroom. Corwin Press.
Elias, M. J., & Arnold, H. (2006). The Educators Guide to Emotional Intelligence and Academic Achievement: Social-Emotional Learning in the Classroom. Thousand Oaks: Corwin Press.
Faria, E. F. M. (2019). A formação inicial e continuada de professores na perspectiva dos profissionais da educação do município de São José de Ribamar-MA. Revista Eletrônica Científica em Educação e Meio Ambiente, 5(1), 192-206.
Farias, G. A. et al. (2018). Tecnologias digitais no processo de ensino e aprendizagem: contribuições e desafios na percepção dos estudantes. Informática na Educação: Teoria & Prática, 21(2), 52-69.
Feldman, A. F., & Matjasko, J. L. (2005). The role of school-based extracurricular activities in adolescent development: A comprehensive review and future directions. Review of Educational Research, 75(2), 159-210.
Ferreira, L. A., & Nunes, J. O. (2019). Formação continuada de professores nos municípios do interior do Maranhão. Revista Brasileira de Educação do Campo, 4(2), 154-174.
Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2016). School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. Review of Educational Research, 86(3), 1-52.
Freire, A., Alves, M. T., Martins, P., & Duarte, A. (2018). Student voice: using participatory methods to capture student perceptions on school architecture. Journal of Urban Design, 23(6), 819-837.
Freire, P. (1970). Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
Freire, P. (1996). Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa. São Paulo: Paz e Terra.
Fullan, M. (1993). Change Forces: Probing the Depths of Educational Reform. London: Falmer Press.
Fullan, M. (1993). Change Forces: Probing the Depths of Educational Reform. London: Falmer Press.
Fullan, M. (2007). The New Meaning of Educational Change. Teachers College Press.
Fullan, M. (2011). The Moral Imperative Realized.
Fullan, M. (2016). The Principal: Three Keys to Maximizing Impact. São Francisco: Jossey-Bass.
Furtado, D. R., Silva, J. C. S., Siqueira, T. C., & Guedes, V. L. S. (2018). A infraestrutura tecnológica de escolas públicas no Brasil: um estudo exploratório. In Anais do Encontro Nacional de Inteligência Artificial e Computacional (pp. 591-602).
Gardner, H. (1983). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books.
Gardner, H. (1983). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. New York: Basic Books.
Gardner, H. (1999). Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century. New York: Basic Books.
Giroux, H. (1988). Teachers as Intellectuals: Toward a Critical Pedagogy of Learning. Westport: Bergin & Garvey.
Góes, F. S. et al. (2018). Estudo da qualidade do ensino médio em escolas públicas do Estado do Maranhão. Revista Eletrônica Científica em Educação e Meio Ambiente, 7(2), 210-223.
Gusmão, S. M., & Pimenta, S. G. (2017). Formação continuada de professores: desafios e perspectivas. Educação e Pesquisa, 43(3), 689-704.
Hanushek, E. A. (2011). The Economic Value of Higher Teacher Quality. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2015). The Knowledge Capital of Nations: Education and the Economics of Growth. MIT Press.
Hargreaves, A. (2012). The Fourth Way of Change: Creating the Conditions for Educational Excellence.
Hargreaves, A. (2015). Professional Capital: Transforming Teaching in Every School. Nova York: Teachers College Press.
Hargreaves, A., & Fullan, M. (2012). Professional Capital: Transforming Teaching in Every School. Teachers College Press.
Hattie, J. (2003). Teachers make a difference: What is the research evidence? Australian Council for Educational Research.
Hattie, J. (2009). Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. London: Routledge.
Imbernón, F. (2010). Formação docente e profissional: formar-se para a mudança e a incerteza. São Paulo: Cortez Editora.
INEP. (2021). Censo Escolar da Educação Básica. Recuperado de http://inep.gov.br/censo-escolar
Ingersoll, R. M., & Strong, M. (2011). The Impact of Induction and Mentoring Programs for Beginning Teachers: A Critical Review of the Research. Review of Educational Research, 81(2), 201-233. doi:10.3102/0034654311403323
Johnson, N., Veletsianos, G., & Seaman, J. (2019). US Faculty and Administrators' Experiences and Approaches in the Digital Learning Landscape: Key Findings and Implications. Online Learning Journal, 23(2), 1-26.
Lauer, T., et al. (2017). The effectiveness of hands-on educational materials for the understanding of elementary mathematics concepts. International Journal of Science and Mathematics Education, 15(6), 1127-1144.
Laurillard, D. (2002). Rethinking university teaching: A conversational framework for the effective use of learning technologies. Routledge.
Lee, S. H., Tsai, C. C., & Wu, Y. T. (2019). The effect of audiovisual materials on students' learning motivation and academic achievement in flipped learning. Computers & Education, 129, 37-50. doi: 10.1016/j.compedu.2018.10.006
Li, H. et al. (2019). Students' Perception of Teaching Quality and Its Determinants: Evidence from Chinese Higher Education. Frontiers in Psychology, 10, 2107. doi: 10.3389/fpsyg.2019.02107.
Lima, J. L., & Almeida, R. M. (2018). Recursos educacionais digitais: Estudo comparativo do uso no ensino de química. In Anais do Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (pp. 1-10).
Lima, P., & Santos, A. (2020). Importância das Atividades Extracurriculares para a Formação Integral dos Estudantes. Revista Educação em Ação, 3(1), 77-90.
Lopes, F., & Silva, A. (2017). The Contribution of Extracurricular Activities to the Integral Formation of Students: A Systematic Review. Revista Brasileira de Educação, 22(69), 421-446.
Lopes, J. C. M., & Almeida, M. G. (2019). A falta de recursos didáticos nas escolas maranhenses: um estudo exploratório. Revista de Educação da Universidade Federal do Maranhão, 2(3), 175-194.
Luckesi, C. C. (2005). A Avaliação da Aprendizagem Escolar. Cortez Editora.
Luckesi, L. C. (2011). Filosofia da Educação. São Paulo: Cortez Editora.
Lysaght, R., Cobigo, V., Hodgetts, S., & Cole, M. (2019). Physical accessibility and inclusive education for students with disabilities: international perspectives. Disability & Society, 34(4), 543-560.
Machado, D. S., et al. (2018). Impacto da infraestrutura escolar no desempenho dos estudantes: uma análise comparativa internacional. Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação, 26(101), 39-62.
Mahoney, J. L., Cairns, R. B., & Farmer, T. W. (2003). Promoting interpersonal competence and educational success through extracurricular activity participation. Journal of Educational Psychology, 95(2), 409-418.
Mahoney, J. L., Cairns, R. B., & Farmer, T. W. (2005). Promoting interpersonal competence and educational success through extracurricular activity participation. Journal of Educational Psychology, 97(4), 638-644.
Mahoney, J. L., Vandell, D. L., Simpkins, S., & Zarrett, N. (2005). Adolescents after-school activities: Are school-based and community youth programs different contexts? Child development, 76(4), 883-897.
Marques, M. (2018). Atividades Extracurriculares: Uma Proposta de Inclusão e Aprendizagem na Educação Básica. Revista Diálogos & Saberes, 1(2), 38-46.
Marsh, H. W., & Kleitman, S. (2002). Extracurricular school activities: The good, the bad, and the nonlinear. Harvard Educational Review, 72(4), 464-514.
McLaren, P. (1994). Life in Schools: An Introduction to Critical Pedagogy in the Foundations of Education. Nova York: Routledge.
Mendonça, L. C., et al. (2018). A importância do uso de recursos didáticos no processo de ensino-aprendizagem. Revista de Iniciação Científica em Tecnologia e Inovação, 4(1), 48-59.
Moran, J. M. (2012). O que os alunos pensam sobre a educação? São Paulo: Editora Papirus.
Moran, J. M. (2013). A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá. Papirus Editora.
Moran, J. M. (2015). Ensino e Aprendizagem Inovadores com Tecnologias Audiovisuais e Telemáticas. Papirus Editora.
Moura, J. C. S., Souza, D. D., & Vieira, L. M. (2018). Atividades extracurriculares: Um desafio para as escolas públicas. Revista Diálogo Educacional, 18(57), 427-446.
Nóvoa, A. (2009). Os professores e as histórias da sua vida. Porto: Porto Editora.
OCDE. (2019). PISA 2018 Results (Volume II): Where All Students Can Succeed. Paris: OECD Publishing.
Oliveira, L. M. R. (2018). Formação continuada de professores: uma necessidade em tempos de mudanças. Revista Eletrônica da Educação, 12(2), 4-21.
Oliveira, L., & Ferreira, R. (2019). Desafios e Possibilidades das Atividades Extracurriculares no Contexto Escolar. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, 4(5), 11-27.
Oliveira, M. A., & Sanches, C. (2019). A influência dos recursos pedagógicos no desempenho escolar de estudantes do Ensino Médio. In Anais do Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE) (pp. 100-109).
Oliveira, R. L., & Oliveira, R. B. (2020). Tecnologias digitais e recursos didáticos no processo de ensino e aprendizagem. In Anais do Congresso Brasileiro de Informática na Educação (CBIE) (pp. 819-828).
ONU. (2006). Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Recuperado de https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). (ano). Education at a Glance. Editora da OCDE.
Palhano Jr., R. (2018). Políticas educacionais e a melhoria da educação no Maranhão.
Perrenoud, P. (2000). Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed.
Pianta, R. C. (1999). Enhancing Relationships Between Children and Teachers. American Psychological Association.
Pimenta, M., Pinto, M., Miranda, P., & Amaral, L. (2020). Teacher perceptions on the integration of digital technologies in the classroom. In Proceedings of the 12th International Conference on Computer Supported Education (CSEDU 2020) (pp. 532-539). SciTePress.
Pires, J. R. S., & Santos, A. C. R. (2018). Políticas de formação e educação continuada de professores no Maranhão. Revista Eletrônica de Educação, 12(2), 374-389.
Placco, V. M. N. S. (2003). Indisciplina na escola: alternativas teóricas e práticas. São Paulo: Editora Cortez.
Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, 9(5), 1-6.
Ribeiro, R. A. S. (2019). As condições físicas das salas de aula nas escolas públicas municipais de um município do interior do Brasil. Revista Práxis, 11(23), 97-107.
Ristoff, D., & Canário, R. (2011). Atividades extracurriculares no Brasil: entre a carência e a criação de oportunidades. Educação & Sociedade, 32(115), 477-494.]
Rocha, R. P., & Lima, J. F. (2020). Infraestrutura física e tecnológica nas escolas públicas: uma análise a partir dos dados do Censo Escolar. Revista Brasileira de Estudos de População, 37, 1-18.
Sahlberg, P. (2015). Finnish Lessons 2.0: What Can the World Learn from Educational Change in Finland? Nova York: Teachers College Press.
Sallis, J. F., Cerin, E., Conway, T. L., Adams, M. A., Frank, L. D., Pratt, M., & Salvo, D. (2015). Physical activity in relation
Santos, C. M., Almeida, A. N., & Santos, R. F. (2020). Acesso a atividades extracurriculares no contexto da educação básica no Brasil: perspectivas e desafios. Educação e Pesquisa, 46, e198007.
Santos, F. M., & Silva, J. P. (2019). Estudantes de uma escola pública no interior do Maranhão: percepções acerca da qualidade da educação. Revista Eletrônica de Educação, 13(3), 310-329.
Santos, L. F., Reis, L. A., & Gonçalves, A. (2018). A qualidade da infraestrutura escolar e o desempenho educacional no Estado do Maranhão. Revista de Administração Pública, 52(1), 120-137.
Santos, M. F. (2017). Dificuldades de Aprendizagem em Matemática: Uma Análise a partir dos Resultados do SAEB no Estado do Maranhão.
Santos, M. S., Silva, V. L., & Coutinho, V. L. (2020). Tecnologia na educação: expectativas e realidade de alunos de uma escola da rede pública no Maranhão. Educação & Realidade, 45(3), e22080.
Schön, D. A. (1983). The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. New York: Basic Books.
Schwartzman, S. (2004). Educação e desigualdade no Brasil.
Secretaria de Estado da Educação do Maranhão. (2021). Programa Escola Digna: Mais Tempo na Escola. São Luís, MA: SEDUC.
Silva, C. G., Vianna, R. P., & Vianna, M. M. M. (2017). Acesso e desigualdades no tempo disponível e na participação em atividades extracurriculares: análise do Programa Mais Educação no Brasil. Cadernos de Pesquisa, 47(165), 119-143.
Silva, E. R., & Carvalho, S. M. (2018). Formação de professores nos municípios de pequeno porte do Maranhão: um estudo sobre qualificação docente. Revista Debates em Educação, 10(20), 137-152.
Silva, F. A., & Souza, D. F. (2021). Opiniões dos estudantes sobre o uso das tecnologias digitais na educação: um estudo em escolas públicas brasileiras. Revista Eletrônica de Educação, 15(1), 137-155.
Silva, M. S. A. (2014). A Qualidade da Educação Básica no Maranhão: Desafios e Perspectivas.
Soares, A. F., Sampaio, C. H., & Diniz, J. A. (2019). Avaliação de estudantes sobre os recursos didáticos disponíveis nas escolas públicas. Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em Educação, 27(104), 894-917.
Soares, J. F., Alves, G. A., & Lima, V. R. (2018). Infraestrutura escolar no Brasil: uma análise da rede pública de ensino básico. Cadernos de Pesquisa, 48(168), 1270-1289.
Soares, R. (2016). Atividades Extracurriculares na Educação Básica: Percepções de Estudantes e Professores. Educação, 39(1), 25-38.
Soares, T. R., Araújo, T. V., & Silva, J. C. (2020). A importância da tecnologia educacional no contexto escolar: Um estudo de caso em uma escola pública de Teresina-PI. In Anais do Simpósio Nacional de Tecnologias Digitais na Educação (pp. 229-238).
Sousa, A. M., & Silva, M. C. P. (2020). Formação de professores do campo: o protagonismo do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental, 39(1), 26-47.
Souza, E. M., Costa, E. M., & Batista, E. L. (2020). A infraestrutura física nas escolas públicas do Maranhão: desafios e perspectivas. Revista de Políticas Públicas e Avaliação Educacional, 10(1), 158-180.
Souza, L. F., & Barros, D. M. L. (2018). Percepção dos estudantes sobre a qualidade da formação de professores. Revista Eletrônica de Educação, 12(2), 184-203.
Souza, R. P., & Santos, E. C. (2020). Percepção dos estudantes sobre o uso das tecnologias digitais na educação: um estudo de caso. Revista Eletrônica de Tecnologia e Cultura, 1(1), 47-59.
Tapscott, D. (1998). Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation. New York: McGraw-Hill.
Tardif, M. (2002). Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes.
Tedesco, J. C. (1999). O novo pacto educativo: Educação, competitividade e cidadania na sociedade moderna. São Paulo: Ática.
Trindade, P. R., & Rodrigues, E. L. (2019). Contribuições das tecnologias educacionais na educação básica: uma perspectiva discente. Revista Novas Tecnologias na Educação, 17(2), 1-14.
UNESCO. (2017). Enfrentando o desafio da infraestrutura escolar. Recuperado de https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247040
UNESCO. (2019). School-based Extracurricular Activities: A Key to Quality Education. Paris: UNESCO.
Viana, M. C. P., & Borba, A. S. (2019). Technology integration in the classroom: Perceptions of students and teachers. In Proceedings of the 12th International Conference on Computer Supported Education (CSEDU 2020) (pp. 575-582). SciTePress.
Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge: Harvard University Press.
Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard University Press.